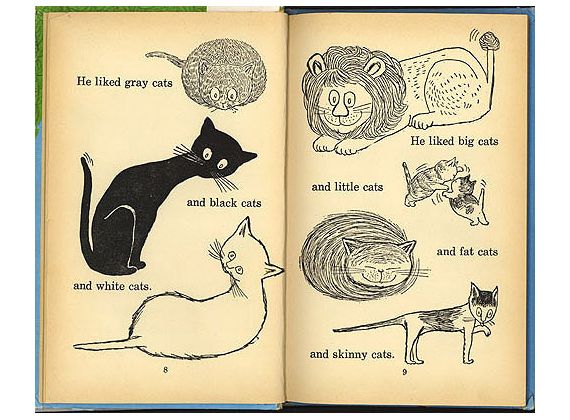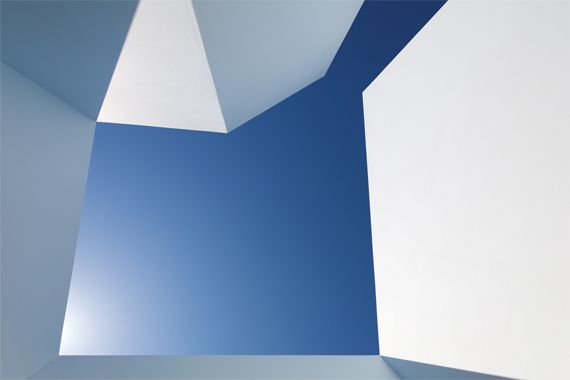Escrever não é apenas pensar. É construir uma realidade. As referências que escolhemos fabricam um ponto de vista. A linguagem nunca é neutral, como não o são os factos que invocamos, as imagens, os vídeos. O que vemos no assalto ao jovem agredido
Asyraf Haziq, por exemplo? Um instantâneo da realidade ou algo mais? E dissertando sobre isso, falamos da verdade dos factos ou do simbolismo de tudo o que podemos ver para lá das imagens?
O que nos separa dos eventos de Londres da semana que passou? O primeiro obstáculo é mesmo uma questão de distância. É demasiado fácil discorrer sobre aquela violência, seja para exigir repressão implacável ou para desmultiplicar a complexidade das causas. E é fácil porque, de uma forma ou de outra, estamos todos sentados nas nossas torres de marfim, em condomínios fechados ou num apartamento dos subúrbios. Se aqueles selvagens estivessem no nosso bairro a pilhar e a destruir seríamos os primeiros a clamar pelo exército nas ruas já. E no entanto, depois da tempestade, o que fazer? Dispomo-nos a pensar sobre o que aconteceu ou, como escreve o
Russell Brand, varremos aquela juventude perdida por entre os destroços do motim?
Escutemos o debate acalorado entre alguns jovens londrinos em plena rua –
ver aqui. Podemos perceber que o instantâneo não será tão espontâneo assim; afinal não sabemos ao certo quem são aqueles jovens, quem é actor convidado e quem é intruso na peça. Mas a discussão é rica e resvala rapidamente para fora de um qualquer guião. A dada altura um daqueles rapazes diz sobre os
looters:
estes são os filhos das mães adolescentes.
É uma daquelas frases que faz soar campainhas. Sim, é um belo pedaço de retórica e carrega consigo uma boa dose de generalização romântica. Mas há ali qualquer coisa de verdade, não é assim?
Sabemos que os jovens encapuçados – e os adultos – das noites da última semana não são todos filhos de mães adolescentes. E sabemos que aqueles grupos não são representativos de uma comunidade e muito menos de toda uma geração. Mas se aquelas imagens nos perturbam é porque encontramos ali algo que nos é reconhecível. Afinal, ali testemunhamos o que pode significar o fim da linha de uma sociedade.
Não posso deixar de pensar que o que está ali em causa é, em parte, o momento em que a família – seja qual for a cor, o tamanho, o feitio – deixou, de alguma forma, de existir. Não se trata de afirmar que a culpa é dos pais. Sim, a culpa também é dos pais, seja pela carência, pela indiferença ou pela inaptidão total. Mas não podemos deixar de questionar o plano mais vasto em que tudo isto existe. De interrogar o papel a que a nossa sociedade vem votando o espaço da família. E aqui temos de ir mais fundo, à estrutura social que a dimensão económica e política da nossa realidade está a construir. À ética empresarial, por exemplo, porque no mundo em que vivemos se subjuga a família ao sucesso profissional. Ou, no caso mais extremo, à mera sobrevivência financeira.
Quando a destruição chega às ruas não há lugar para mais do que a repressão. Mas o problema de fundo, para lá do plano da criminalidade que também existe, não é apenas um caso de polícia. E ao pensar nisto já não estamos só a pensar em Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham. Ou em Paris. Mas em Europa.
Talvez o futuro de tudo isto, e de todos nós, se balance num fio tão instável como o dos
mercados da última semana. Na ausência de afirmação de uma Europa forte em torno de um desígnio económico conjunto para o desenvolvimento, estes podem ser problemas que ficarão por responder no contra-ciclo do empobrecimento das nações. Restará assim a única saída fácil, viável, que é a da repressão. E assistiremos ao definhar de um sonho, talvez mais romântico ainda, de uma sociedade de direitos e liberdades, para vermos ascender uma nova sociedade de desesperança e conflito.
A história do Século XXI ainda não está escrita. Esperemos que os motins de Londres não sejam, dessa história, as primeiras palavras.




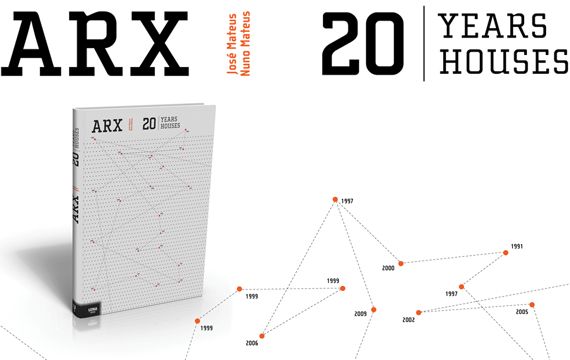
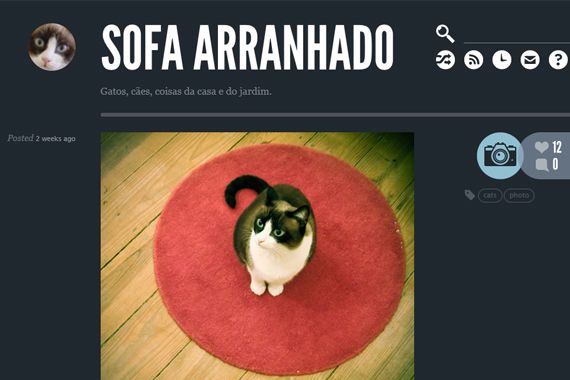
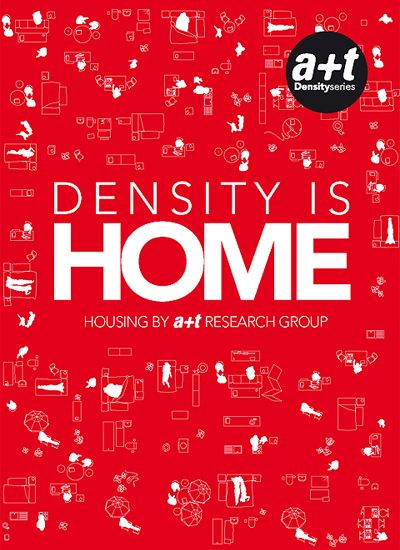


















 Image credits: Type Findings.
Image credits: Type Findings.
 Image credits: Emmy (B1nd1). Via I Am Not What I Am.
Image credits: Emmy (B1nd1). Via I Am Not What I Am.